UOL: Garota Interrompida
Por Thais Carvalho Diniz, 22 de agosto
Crédito foto: Flávio Florido e Lucas Lima
O que pensam as adolescentes infratoras que viraram mães no momento mais difícil da vida
Mickey Mouse e Pica-Pau decoram as paredes do lado de fora. Ao passar pela porta, é possível ver um pequeno sofá. À frente, um tatame colorido forra o chão. Sobre os quadrados desse tapete emborrachado, pufes e estantes com brinquedos para os 12 bebês que vivem ali. O corredor nos leva aos banheiros, sala de TV e dois quartos com camas de solteiro e berços enfileirados. Um armário de ferro e cômodas também fazem parte do dormitório. Até parece um lar, que com seus 283 m² serve de moradia a 14 meninas e seus filhos – dois ainda estão na barriga. Mas essa casa na Mooca, bairro da zona leste de São Paulo, não é visível da rua. O local está dentro de um complexo cercado por portões de ferro e telas de proteção, num nível de segurança um pouco acima do que os outros moradores necessitam. Mas e essas garotas, quem são?
À primeira vista, algumas delas não são muito amigáveis. Oferecem um olhar do tipo “o que você faz aqui?”. Perfeitamente compreensível. Mesmo que temporariamente, ali é a casa delas e de seus filhos. Qualquer mãe se preocupa ao ver um estranho perto de sua cria. Mas, se ao entrar ali a sensação é de invadir um espaço privado, estar lá dentro traz um sentimento de esperança. É como se você entrasse em uma bolha.
“A primeira pergunta é: ‘quanto tempo vou ficar’? E a primeira frustração é a resposta: ‘não sei’. Isso frustra muito e vão se frustrar sempre porque eu realmente não sei”, afirma Ricarda Maria de Jesus, psicóloga responsável por elas.
TEMPO DE REFLEXÃO
A maternidade precoce pode transformar os valores de quem cometeu um crime?
Essas adolescentes são internas da Fundação Casa (Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente), a antiga Febem. A instituição tem 150 unidades masculinas e femininas espalhadas pelo Estado de São Paulo que são lembradas, na maioria das vezes, por rebeliões ou greves. Entretanto, quando entramos na unidade Chiquinha Gonzaga, nome do complexo aqui retratado, conhecemos a “Casa das Mães” ou Pami (Programa de Acompanhamento Materno-Infantil), que existe desde 2003. E, lá dentro, é difícil imaginar que você está em um lugar que priva a liberdade.
Para quem não vive o cotidiano de jovens infratores, as meninas parecem adolescentes comuns. Uma rápida conversa basta para simpatizar. Mais fácil ainda é esquecer os motivos que as trancaram lá. Elas cometeram crimes no momento que deveria ser o mais doce e irresponsável de sua existência e, junto a isso, carregaram – ou ainda carregam – uma nova vida. Vida essa que todas enxergam como um presente, uma benção, que vai ajudar no aprendizado da “lição”.
É proibido revelar nomes, delitos e detalhes sobre qualquer uma delas. As mães do Pami, assim como qualquer pessoa com menos de 18 anos, são protegidas pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), mesma entidade que definiu a internação como uma das medidas socioeducativas. É a punição mais dura e, de acordo com o estatuto, o adolescente só é internado quando comete atos como homicídio, tráfico de drogas ou reincidência em crimes violentos. Pequenos delitos como lesões leves e furtos em lojas podem ser convertidos em advertência, reparação de danos ou prestação de serviços à comunidade.
NA BOLHA
Lis*, 18, “está cansada”. Ela é a interna que há mais tempo mora na “Casa das Mães”. São dois anos ali. Está prestes a sair. Vive ansiosa porque quer ver como seu filho, de um ano e dois meses, vai reagir do lado de fora. “É muito nervoso. Por um lado, é bom poder ficar com eles, mas ficamos apreensivas para saber como vai ser depois daqui”, afirma.
O “depois daqui” é o sair da “bolha”. As meninas entraram grávidas e vivem cada dia da internação ao lado dos filhos. Aprenderam a conviver com regras, com respeito e a ser mãe em tempo integral. A ajuda das “senhoras”, mulheres que ficam com elas em dois turnos, é maior no início, quando precisam aprender a lidar com os bebês, dar banho, amamentar, trocar fraldas…. De resto, as “senhoras” só ficam com as crianças quando as jovens estão em período escolar e atividades profissionalizantes.
“Acordamos às 6h. A primeira coisa a fazer é dar banho nos bebês. Depois vem o nosso e, então, vamos tomar café. Limpamos a casa. Os cursos [profissionalizantes] também são na parte da manhã e, depois do almoço, vamos para a escola”, conta Jasmim*, 16, um ano e dez meses de Fundação Casa. Mãe de um menino de um ano e três meses, ela fala que foi difícil se adaptar à rotina. Antes de ser internada, largou a escola e “vivia sem regra nenhuma”.
“A questão familiar empurra para rua. E, na rua, o afastamento da escola e as drogas andam ali, juntos…. Pode saber que quando a menina está afastada da escola, vem a droga atrás. É impressionante”, afirma a psicóloga.
Há cinco meses no Pami, Rosa*, 18, endossa o “enquadramento” como uma das vantagens desse espaço. “Antes eu era a minha própria autoridade. Cheguei aqui e aprendi a ouvir ‘não’ e a esperar, porque nada acontece exatamente quando a gente quer”, afirma. Já Violeta*, 16, interna há um ano e oito meses, destaca a… escola. “Enquanto lá fora as turmas têm 30, 40 alunos para um professor, aqui são apenas nove na minha série [2º ano do Ensino Médio]. Tenho muito mais acesso aos profissionais”, explica ela, que também fez cursos de jardinagem, espanhol para recepção e bordado.
Além do Pami, o complexo Chiquinha tem dois espaços de internação comum – as mães adolescentes convivem com as outras meninas apenas para trabalhos pedagógicos e extracurriculares.
A MÃE DA MÃE
“Fiz a janta, mesa posta e recebi uma ligação dizendo que a polícia estava com a minha filha. Perdi meu rumo, meu chão, não conseguia ficar em pé.” Foi assim que Inês*, 48, mãe de uma das internas do Pami, resumiu o dia que considera o mais difícil da sua vida. “Toda dor que eu sinto é justamente porque ela sempre foi minha companheira, minha filha mais presente, minha confidente”, disse com a voz cheia de saudade.
Inês comparece às visitas semanais sempre que possível. Fez a família mudar-se para um bairro mais próximo do complexo a fim de “facilitar a vida e recomeçar onde não conheçam a filha”. Afirma que sempre aconselhou a menina e que, ao notar a revolta pela ausência do pai – eles são divorciados -, dizia: “Por mais que você tente atingir alguém, seja quem for nessa vida, a maior atingida será você mesma”. Mas o conselho não serviu quando a garota conheceu “o amor da sua vida” na escola. O resultado foi um boletim de ocorrência que trancou ambos na Fundação Casa.
Inês conta que nada disso diminui o amor que sente. Diz que tem a consciência tranquila, pois fez tudo o que pôde pela filha. O quarto da casa nova está quase pronto – faltam algumas ilustrações do personagem Pequeno Príncipe na parede -, com berço e presentes empacotados para o neto abrir assim que chegar. “Falo para ela [nas visitas] que o nosso príncipe é o anjo da guarda dela porque, se ela tivesse entrado sem estar grávida, não sei o que teria acontecido. E digo: ame, proteja e faça tudo por ele porque é o seu protetor.”
Ricarda Maria de Jesus, psicóloga do Pami, considera o desajuste familiar um fator preponderante para chegar à Fundação. “A menina, na maioria dos casos, vem com grandes problemas com a família, vínculos completamente esgarçados, não ficava em casa e os pais não significavam nada no que diz respeito a autoridade.”
SEM CULPA
O pensamento que os bebês estão “crescendo presos” é recorrente – eles passam no Chiquinha Gonzaga ao menos o primeiro ano de vida. Mas, para mães e funcionários, uma possível culpa por isso é praticamente inexistente. “A criança não tem essa consciência de prisão. Esse discernimento é nosso, e, ao meu ver, é muito mais prejudicial privá-las da companhia materna”, afirma a psicóloga da unidade.
Violeta fala que chegou a pensar na possibilidade de mandar o filho para casa, mas “não conseguiria. Nem por mim, nem por ele, que eu sei que sentiria minha falta também. Vi coisas que a maioria das mães não conseguem ver porque trabalham o dia todo. Sou muito grata por isso”, afirma. Rosa, que no dia da entrevista segurava a filha de seis dias, estende essa visão: “Depois que minha filha nasceu, criei mais força para querer ir embora”.
Além de ser benéfico para mãe e filho, a convivência entre as meninas do Pami é mais harmônica do que no espaço de internação comum da unidade da Mooca. “O fato de imaginar deixar o filho resulta em desespero. Entre elas, existe uma solidariedade muito forte, se ajudam como podem”, diz Gislene de Cássia, assistente social responsável pela casa.
Ricarda conta que apenas uma vez precisou encaminhar o bebê para a família. “Foi há muitos anos. Era um caso psiquiátrico e a mãe tinha a ideia de matar o filho. Com respaldo psiquiátrico, entregamos para a família e ela voltou para o outro espaço. A criança tem o direito de ficar com a mãe e vice-versa”, afirma a psicóloga.
A REDENÇÃO
As meninas que conversaram com o TAB dizem ter consciência de que são responsáveis pelo caminho que tomaram. Independentemente de terem sido influenciadas ou cúmplices de algum crime, afirmam ter aprendido na marra que a vida é feita de escolhas – e encontraram na internação o tempo necessário para “refletir”. E, segundo as profissionais que atuam no Pami, essa reflexão em busca da redenção ganha força, mesmo, com a maternidade.
“Tudo que a gente pensa é não deixar a criança errar como a gente. Ser um exemplo, né? Agora é diferente porque tudo que eu fizer não vai ter consequência só para mim. Quero sair, trabalhar, estudar para poder dar de tudo para a minha filha”, fala Rosa.
O discurso “eu quero ser melhor porque agora sou mãe” ecoa pela casa, mas não por acaso. “É claro que elas conversam entre si e, de certa forma, falam o que imaginam que a gente quer ouvir. Mas aprendemos, no convívio diário com adolescentes em conflito com a lei, a saber quando elas querem agradar. Dá para ver, sentir no olhar, na entonação da voz, na postura corporal…”, explica a psicóloga Ricarda Maria de Jesus.
O MEDO
Violeta falou sobre uma espécie de medo de voltar para o “mundão”. Ela começou a se questionar sobre as lembranças de como é a vida do outro lado do muro. Jasmim, por sua vez, diz que não tem receio de ir embora.
“Pelo contrário, quero sair. Minha cabeça está totalmente diferente. Quero arrumar um trabalho, estudar à noite, colocar meu filho na creche, sabe? Vida nova. Não quero saber de droga, sabe? Amigos, da porta de casa para fora. Porque tem amigos que só querem destruir sua vida. Pena que só hoje eu tenha consciência disso”, afirma.
Sobre a realidade da mudança na prática, a psicóloga afirma que, se não acreditar na capacidade de transformação das internas, ela não poderia trabalhar. E está na Fundação Casa há 14 anos. “É a crença de que é possível que me faz continuar. Às vezes, depois de muito tempo, leio a sentença com elas e muitas falam ‘não me reconheço’. Isso não é sádico. É terapêutico. É um crescimento que percebo no dia a dia. De todos? Não, nem todo mundo cresce igual, nem nós. Mas ainda parto do princípio que todos nós evoluímos e elas também”, afirma.
SONHOS X REALIDADE
Algumas das meninas estão sem visita há meses. Outras nunca receberam nem uma ligação sequer. O abandono é mais comum do que se imagina. Mas a esperança de encontrar um “mundão” amigo está quase que tatuada. Todas têm planos e pensam em seguir uma profissão. Os desejos passam pela gastronomia, medicina, fotografia, psicologia, enfermagem…. Algumas até se perdem nas preferências, mas os olhos brilham quando contam sobre as carreiras escolhidas.
Elas reconhecem que, se estivessem em casa, não conseguiriam conciliar os estudos com a criação dos filhos. Jasmim, por exemplo, perdeu a mãe quando o filho tinha acabado de nascer. Seu pai, então responsável por ela, estava preso. “Se eu estivesse lá fora, não saberia o que fazer. Ia me sentir perdida. Talvez meu filho não estivesse mais comigo. O Conselho [Tutelar] poderia ter pego. Aqui foi um lugar que me ajudou a ter esse laço afetivo com meu filho e a amadurecer. De certa forma, foi bom eu estar aqui nesse momento tão difícil da minha vida”, afirma.
MODELO?
Antes do Pami, a Fundação Francisca Franco, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade, recebia as meninas após o parto. Aos quatro meses de idade, os bebês eram separados das mães, que voltavam para a Fundação Casa, enquanto eles eram encaminhados para a família ou adoção. A assistente social Gislene de Cássia vê nesse ponto a importância do programa. Ela trabalha com as jovens mães há oito anos e afirma que cortar o laço nesse período não ajuda nem mãe nem filho.
Segundo Mariana Chies, socióloga que fez parte da pesquisa do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) sobre a internação de meninas em todo o país, o Pami é o “único lugar no Brasil que tem condições de receber meninas grávidas”. Ela destaca a rede de solidariedade que existe entre as mães da Fundação Casa, mas não deixa de ter algumas ressalvas. “Nos pareceu que a própria Casa introjeta um discurso moralista bastante pesado, que chamamos de maternidade compulsória, ou seja, a menina vai ser mãe e vai poder se endireitar na vida. Ignora-se que são seres humanos por trás desse papel e querem provar para a sociedade que você pode ser uma boa pessoa se for uma boa mãe”, analisa. E acrescenta sobre o processo de reabilitação: “Não dá para medir se é bom ou não. Elas estão protegidas enquanto internas, mas saem e sofrem outro desamparo, o do Estado”, completa.
Sobre o papel do Estado na ressocialização dessas jovens, o promotor de Justiça da Infância e Juventude da capital Fabio Bueno, que faz vistorias bimestrais à Chiquinha há três anos, diz que existe um trabalho razoável especificamente no Pami, mas que está longe de ser o ideal. “O Estado não dá condições para que seja feito um bom atendimento. As equipes não têm condições de conhecer a fundo a comunidade e a família da adolescente. É preciso fortalecer o elo entre Estado e município para que haja uma espécie de corrida de revezamento, na qual o primeiro passa o bastão para o segundo no término da medida socioeducativa”, afirma.
Para o promotor, quando a menina sai da Fundação Casa, todo trabalho feito é perdido, uma vez que não há mais acompanhamento. “O Estado interna por determinação do judiciário, que acompanha durante esse período, e fica por isso, o que as deixa muito vulneráveis. Muitas saem, não conseguem nem emprego – muito menos estudar — e voltam para o crime”, completa, frisando que os números de reincidência divulgados como oficiais são irreais. “Temos estatísticas na promotoria que resultam em uma reincidência bem alta, mais de 50% na Fundação como um todo, meninos e meninas”.
A promotora Fabíola Sucasas, do Gevid (Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica) do Ministério Público de São Paulo, acredita que o programa preserva a dignidade das adolescentes enquanto mães, mas acredita que é preciso olhar além. “Na ‘bolha’ construída pelo governo, os preconceitos não são tão aparentes. Elas estão entre iguais. Do lado de fora, a menina não tem mais garantidos os direitos do exercício da maternidade e de buscar o aprimoramento intelectual. Por isso, precisamos buscar alternativas para garantir que essa moça consiga estabelecer um caminho para sua vida”, afirma.
O TAB entrou em contato com o Observatório de Direitos Humanos da Secretaria de Justiça de São Paulo para ter uma avaliação sobre o programa, mas foi informado que “apenas as mesmas informações obtidas em visita à unidade da Fundação Casa seriam repassadas”.
Clique aqui e leia a original.

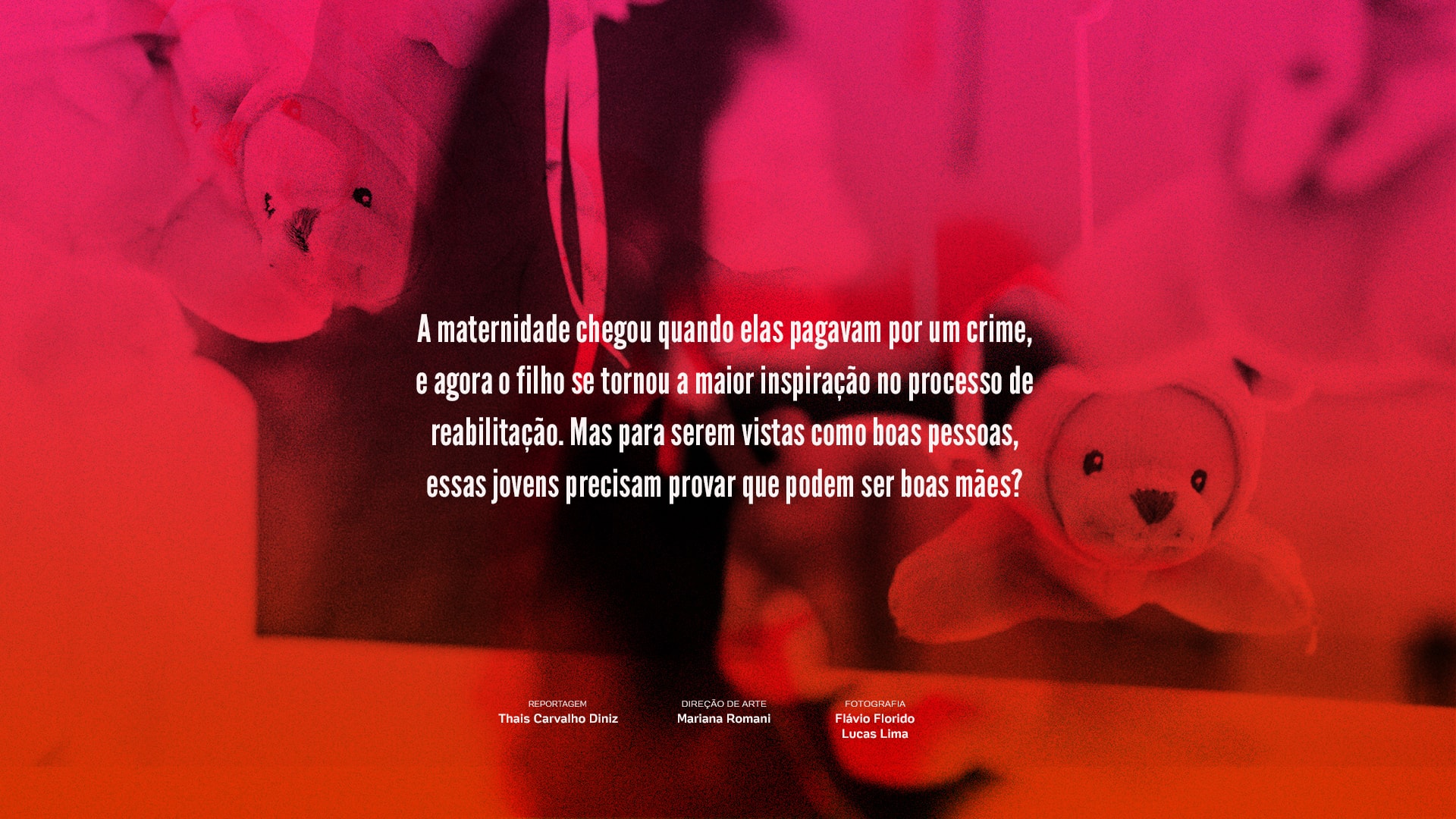





Deixar um comentário